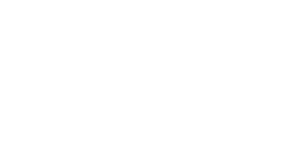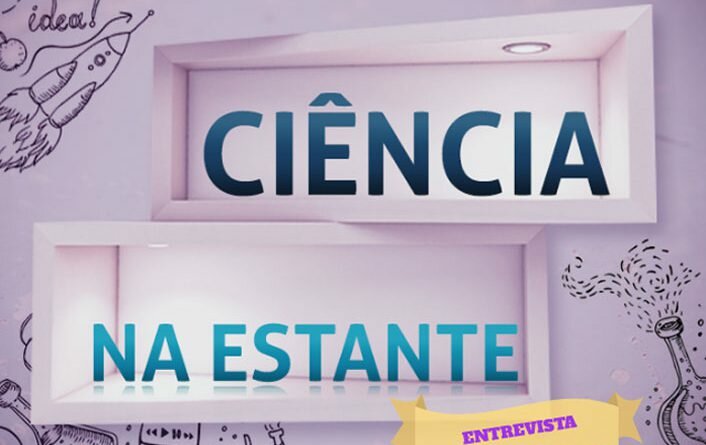Carlos Heitor Cony: literatura, política e condição humana
Oito de maio de 2008. Em seu organizadíssimo escritório carioca, no Largo do Machado, o escritor Carlos Heitor Cony – falecido no último dia 5 de janeiro, aos 91 anos –, recebe-me, entre centenas de livros, objetos pessoais e obras de arte, para prosear sobre uma série de questões, relacionadas ao fazer literário, à trajetória sociopolítica do País, e, principalmente, às ambiguidades do ser humano e aos reveses e belezas da existência.
À época, iniciavam-se os estudos de minha tese de doutorado, defendida, quatro anos mais tarde, junto ao Programa de Pós-graduação em Literatura Brasileira da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais (Fale/UFMG). Aquelas cerca de duas horas de conversa só se tornariam públicas em 2014, ao integrar os anexos do livro Cronismo de Resistência – Tensões narrativas entre jornalismo, história e literatura em crônicas de Carlos Heitor Cony contra o golpe militar de 1964, lançado pela editora Prismas.
Em homenagem ao escritor, cronista e jornalista, responsável por obras seminais às letras nacionais – a exemplo de O ventre (1958), O ato e o fato (1964), Pilatos (1974) e Quase memória (1995) –, buscou-se destacar, aqui, trechos reveladores da entrevista, nos quais é possível compreender meandros da produção artística e do pensamento intelectual de Cony.

Comecemos pelo romance Pilatos, de 1974. Como foi o processo de escrita do livro, tido pelo senhor como um de seus melhores trabalhos?
O livro começou a ser escrito por volta de 1970. Eu tinha sido preso, em prisão meio estúpida, por uns dez dias. Quando voltei, estava empregado, trabalhando nas memórias de JK na Manchete. Tinha um ordenado, realmente. E havia ficado muitos anos sem nenhuma fonte de renda, mas, com a história de trabalhar nas memórias de Juscelino, fazia colaborações não só para a Manchete, mas, também, para outras revistas, simpósios etc. Estava recém-casado e, realmente, achei que não tinha mais nada a fazer com a literatura. Eu tinha escrito Pilatos e estava enfarado da literatura. Estava farto! Após 1964, depois das prisões, do ano em que passei em Cuba, achei que a literatura não significava nada. Então, resolvi fazer o livro, uma espécie de fala do trono, e, com o tempo, eu lavava as mãos. Daí o título de Pilatos. A obra era isso: o símbolo do ato de “lavar as mãos”. Retirei a epígrafe de [Paulo] Vanzolini: “E assim me rendi ante a força dos fatos / Lavei minhas mãos como Pôncio Pilatos”. Não podia fazer nada contra a força dos fatos, a não ser lavar as mãos. Por isso, escrevi um livro completamente descompromissado de bom gosto, de moral, e da própria técnica literária, além de repleto de coisas absurdas. Enfim, fiz o livro. Uma farsa, praticamente. E o realizei, quase todo, nos intervalos de meu trabalho. Fechei meu gabinete para construí-lo, e dei aquele tom picaresco, bastante debochado. Não tive receio de me enveredar pelo caminho de Rabelais, Swift, meus modelos de literatura. Esqueci Machado de Assis, Sartre, e entrei, mesmo, no terreno dos malditos: um pouco de Sade e muito de Swift e Rabelais. Depois da publicação, percebi que o livro continha, como pano de fundo, uma situação, uma época. Falo de uma geração castrada. As personagens são todas marginais, vítimas – e, até certo ponto, cúmplices – de tudo aquilo. Gostei do livro porque é muito próprio. Acho que qualquer um poderia escrever minhas outras obras, de modo melhor ou piro. Pilatos, só eu poderia fazer. De tal maneira isso me satisfez, que pensei: “Bom, agora, não preciso escrever mais nada”. E fiquei 21 anos sem dedicar-me à ficção.
Até Quase Memória…
Sim. Escrevi crônicas, fiz muita adaptação de clássicos. Cheguei às biografias de Getúlio, Juscelino. Apesar disso, me encomendavam livros de ficção! Eu realmente me desinteressei. Não frequentava a literatura, nem os suplementos. Foi, digamos assim, um rompimento definitivo, profundo, não só com as letras, mas com as várias manifestações da arte. Além disso, tive certo prazer em ajudar o Juscelino a escrever suas memórias. Eu sabia que era coisa importante, por se tratar de um depoimento à história do Brasil, embora uma autobiografia seja sempre facciosa, tendenciosa. Trata-se, porém, de um ponto de referência. Nesse período, entreguei-me à vida.

Percebo, em seus relatos de cronista – e, particularmente, em O ato e o fato –, grande descrença em relação ao “homem moderno”. Em seus romances, as noções de solidariedade humana somam-se a certa náusea com relação ao mundo sensível. Nesse sentido, pergunto-lhe: em O ato e o fato, assim como nos romances pós-1964, Pessach e Pilatos, de que modo o senhor bebe na “fonte existencialista”? Quais os ecos de Sartre nas referidas personagens (conynyanas), assim como em suas crônicas?
Você tocou em assunto bastante atual. Quando publiquei o primeiro livro [O ventre], Sartre era o grande escritor da época. Não falo, aliás, do Sartre filósofo, pois nunca perdi muito tempo com ele – e nem com Deus, mente, filosofia, existencialismo. Refiro-me à ficção do autor, que me impressionava muito, com A náusea, Os caminhos da liberdade, A idade da razão e O muro. Nesse sentido, eu era uma pessoa inibida, imersa no espírito sartriano. Não gosto, porém, da expressão “homem moderno”. Para mim, é, simplesmente, “o homem”. Não tem adjetivo. O homem! E, na verdade, sempre fui um leitor apaixonado, mesmo, de Machado de Assis. Há cerca de dez anos [por volta de 1998], uma professora paranaense [Raquel Bueno] fez uma tese de doutorado, na USP [Universidade de São Paulo], em que assinalava os pontos machadianos de minha obra.
Eu pensava que era sartriano, mas me espantei, ao ler aquele trabalho: sou mesmo machadiano. É impressionante! Aos olhos de ressaca de cigana oblíqua e dissimulada de Capitu, corresponde, em Helena, minha personagem, um olhar meio estrábico, que zombava de tudo e me deixava sem jeito. A segurança de Capitu dissimulada contrastava com a insegurança de Bentinho, assim como as famílias sentiam-se agrupadas… O Severo e a família de Helena eram vizinhos, a rua em que foi morar, no Rio de Janeiro, era em Mata Cavalos. O seminário afastou Bentinho de Capitu; José e Helena se afastaram pelo internato. Tanto Bentinho quanto José sofrem muito em relação às suas partidas. Há, ainda, a reação de Capitu quanto ao tema da fraternidade; e a cabeça aritmética de Escobar, herdada por Ezequiel, traço definitivo da personalidade do irmão de José. Oh, meu deus! Dois mais dois são quatro: isso é Machado de Assis!
Gostaria de falar um pouco sobre o golpe de 1964, e acerca da arte naquele período. Como o senhor enxerga, hoje, a implantação do regime de exceção? Que análise, política ou literária, faz da queda de Goulart e da implementação do governo militar?
Do ponto de vista literário, não teve nenhum Na colônia penal [livro de Kafka]. Não teve nada. A literatura estava, digamos, voltada a temas sociais, às perdas. Eu era beato, e não tinha nenhuma preocupação social. Em 90% da literatura que se publicava à época, tanto na prosa quanto na poesia – e, sobretudo, na poesia e no teatro –, era grande o engajamento. Além disso, havia o pano de fundo da Guerra Fria, que dividiu o mundo em dois acirrados polos. O golpe de 1964 foi, dentre outras coisas, consequência da Guerra Fria. E, claro, de certos problemas internos do Brasil. Ficou aquele resíduo da morte do Getúlio. O exército, afinal de contas, havia derrubado Getúlio duas vezes – uma, em 1945; outra, em 1954. O Jango assumiu, como vice-presidente, muito enfraquecido. Tinha prestígio popular porque tinha o partido. Era herdeiro do Getúlio no caso, mas despreparado politicamente, e, com o tempo, foi engolfado pelas esquerdas. Não só pelas esquerdas intelectuais, mas, sobretudo, pela pelegada, pela turma que disputava os lugares, e, ao mesmo tempo, procurava fazer certa legislação por meio de sucessivas greves, para impor questões polêmicas à época, o que desagradou não só ao exército, mas à classe média como um todo. Daí, veio 1964.
Após o golpe, muitos artistas e intelectuais se calaram. Já o senhor passou a escrever crônicas políticas, no Correio da Manhã, contrárias ao movimento. Qual era sua motivação?
Na hora, muita gente fugiu. Todo mundo foi para debaixo da cama, queimou seus livros. Os que puderam fugiram. Eu não era engajado, não tinha partido, não conhecia ninguém, não sabia nem o nome das pessoas. Até hoje, não sei por que agi daquele modo. Se você perguntar o nome de três ministros, eu ainda não sei. Naquela época, muito menos. Então, comecei a reclamar, em reação à chamada massificação, à bossalização de uma nação diante da bota militar. Esse era o tom.
O senhor chegou a escrever algo sobre as manifestações do movimento “Tradição, Família e Propriedade”?
Em linhas gerais, não. Importante ressaltar, porém, que a classe média, como um todo, e a mídia apoiaram o golpe. Mas me concentrei, basicamente, nos militares, e, sobretudo, no Castelo Branco e no Ministro da Guerra. Quanto à Tradição, Família e Propriedade, eu fui a Belo Horizonte, em 1964, para uma palestra, no auditório Alfredo Balena, na Faculdade de Medicina. Estava no Hotel Normandy, e, na frente, havia um caminhão, com alto falante, que passava e gritava, no maior desaforo: “Saia de Belo Horizonte, sua pústula”. Vieram, assim, para cima de mim.
Lembro-me do senhor, em depoimento ao Instituto Moreira Salles, dizendo, sobre aquela época: “Eu, na verdade, achava tudo chato”.
Não tenho nenhuma simpatia pela esquerda, como também não tenho pela direita, nem pelo centro. Nesse ponto, sou um anarquista. Um anarquista inofensivo. O anarquista não admite a existência do Estado. Eu não admito. O Estado é uma coisa repressora e o ideal da sociedade seria o dia em que ele não existisse. Mas não estou disposto a jogar bomba por causa disso. Vivo com isso. E levo isso para o túmulo.
Em relação à literatura, o golpe, de certa forma, mudou seus processos de criação?
Não, não. O fato político não me interessa. Fiz minha obrigação como jornalista. Ou seja, me manifestei, condenei, critiquei, debochei, fui preso, paguei o preço, perdi o emprego. Enfim, fiz tudo o que tinha que fazer. Agora, no meu interior, naquilo que eu chamo de “minha persona”, esse golpe não me afetou. Em 1964, em pleno 1964, eu me dediquei a obras, como o romance Antes, o verão, completamente desengajadas, alienadas. No caso, um casal vai se separar. E não há referência – nenhuma referência, mesmo! – ao fato político. Nada! Eu fiz isso em 1964. Estava sendo processado pelo Costa e Silva e fui para Campos do Jordão, por encomenda da Civilização Brasileira, que resolveu fazer o [livro] Dez mandamentos. Então, juntou uma turma – Lygia Fagundes Telles, Guimarães Rosa, Otto Lara Resende etc. –, e eu fiz o primeiro mandamento, “Amar a Deus sobre todas as coisas”. Não havia, nele, qualquer referência social.
Que relação, na visão do senhor, há, deve haver, ou não, entre arte e resistência política e/ou social? E como o senhor analisa a literatura produzida nas décadas de 1960 e 1970 no Brasil?
Temos o desastroso exemplo da União Soviética. Acaba-se aquela grande fase russa dos romancistas do século XIX, com Tolstói, Dostoiévski, Tchekhov. Depois, tudo vira literatura engajada, de louvores ao regime, com o partido cristalizado. Alexander Soljenítsin foi contra; Boris Pasternak, ponderado. Falo de dois grandes escritores surgidos depois da revolução, e que foram amaldiçoados e perseguidos. Só não foram mortos. Mas a literatura caiu numa mediocridade de propaganda. Na Alemanha, a mesma coisa. No Brasil, já começava a haver certa literatura engajada. Eu, por exemplo… Meu editor, Ênio Silveira, era muito criticado porque me publicava. Diziam: “Você está publicando o Cony? O Cony não é de nada; Cony é alienado, só fala em mulher, em dramas espirituais, seminário, Deus, padres. Esse camarada não é de nada” e tal. A preferência eram os temas engajados. Agora, após 1964, realmente, houve uma treguazinha. Depois, começaram os livros de protesto. Aí, já não era mais o livro engajado. Eram obras de protesto. Fiz, então, Pessach – A travessia, e Balé Branco, também completamente alienado. Não tinha nada, nada. E eu estava completamente no exílio. Aí, fui preso, em 1965. Na prisão, éramos oito, entre os quais o [Antonio] Callado, que fazia Quarup, e o Glauber [Rocha], que se dedicava a Terra em transe.
Talvez o melhor livro da década de 1960 seja, justamente, Quarup. Mas, no início, era um livro apenas sobre os índios, questão cara ao Callado, que era muito amigo do Darcy Ribeiro, dos irmãos Villas Boas, e fora várias vezes ao Xingu. Depois da prisão, achei que era época de fazer algo, já que havia escrito livros sobre várias coisas. Precisava ter um personagem escritor [Paulo Simões]. Mas qual? Em Pessach, tomei por base minha própria vida, minha experiência, minha vida particular. Terminei entrando numa jogada: quis sair e não pude, mas não por vontade. Eu queria sair, fugir, e me disseram: “Você não pode fugir mais porque conhece o mapa da mina”. Então, fiquei ali, prisioneiro de pessoas que queriam fazer uma guerrilha, e terminei envolvido na história contra a vontade.

Não queria, mesmo, se engajar?
Tinha repugnância pelo fato político.
Mas, em Pilatos, a referência política é direta. A própria castração da personagem não simboliza a ausência de direitos dos cidadãos?
Sim, esse é o de pano fundo. O importante de Pilatos era eu fazer uma “fala do trono”. Assim como em Pessach – A travessia, eu tinha envergado a personagem. Não eu, mas a personagem se envergara à força dos fatos. Assim como em Pilatos, no qual, porém, a personagem lava as mãos.
Gostaria, agora, de falar sobre o “cronista Cony”. Gênero relacionado às nuances da história, a crônica, no Brasil, se particulariza, ao abarcar, conforme costumo dizer, “as tempestades e as sinfonias do dia a dia”. De que modo o senhor caracterizaria tal tipo de texto? Em seu ofício, prevalece o desejo de abordar o banal cotidiano ou a macro-história?
A crônica não é um gênero nosso. Montaigne era um cronista. Ao mesmo tempo, a crônica é nosso exercício, e ganhou, realmente, um jeitinho brasileiro. Temos afeição à crônica, por exemplo, devido à falta de bons articulistas e ensaístas. Nossos escritores – sobretudo, aqueles prendados, com bom estilo e que dominam bem a língua – têm linguagem própria, têm charme, e o diabo a quatro. Mas eles se recusam a fazer artigos porque não têm profundidade. Eles não têm a capacidade necessária ao ensaio, gênero que deixam para os professores e para o “território acadêmico”.
O cronista, na verdade, é um peixe de aquário. Ele tem a obrigação de ser charmoso, de ser bonito, de fazer piruetas. Vive no aquário iluminado, nas luzes – da mídia, do jornal, da revista. Ele escreve hoje, e, amanhã, sai sua crônica. Então, ele está ali presente, naquela iluminação toda, na água limpa, renovada. O dono do jornal muda a água, bota comidinha para ele, a comida cai no aquário. Eles são peixes vermelhinhos. Há diversas categorias. Uns mais bonitos do que os outros.
E são frágeis…
Seu universo é o aquário, um mundo limitado, de vidro e de água limpa. A pessoa olha e fica. Você, às vezes, pode passar horas olhando o aquário. Mas não há nada a não ser aquela beleza faiscante. Eis a crônica! Com o escritor, tudo é diferente. Ele é um peixe feio, repugnante, do mar, que vive nas profundezas e não chega à luz do sol. Ele não é obrigado a fazer cambalhotas, nem a agradar. Não precisa cortejar o público, pois não existe para ser visto. Sua vantagem? Ele tem todo o oceano. Sim, ele é o senhor dos oceanos.
Compartilhe nas redes sociais Tags: Carlos Heitor Cony, cronista, escritor, livros